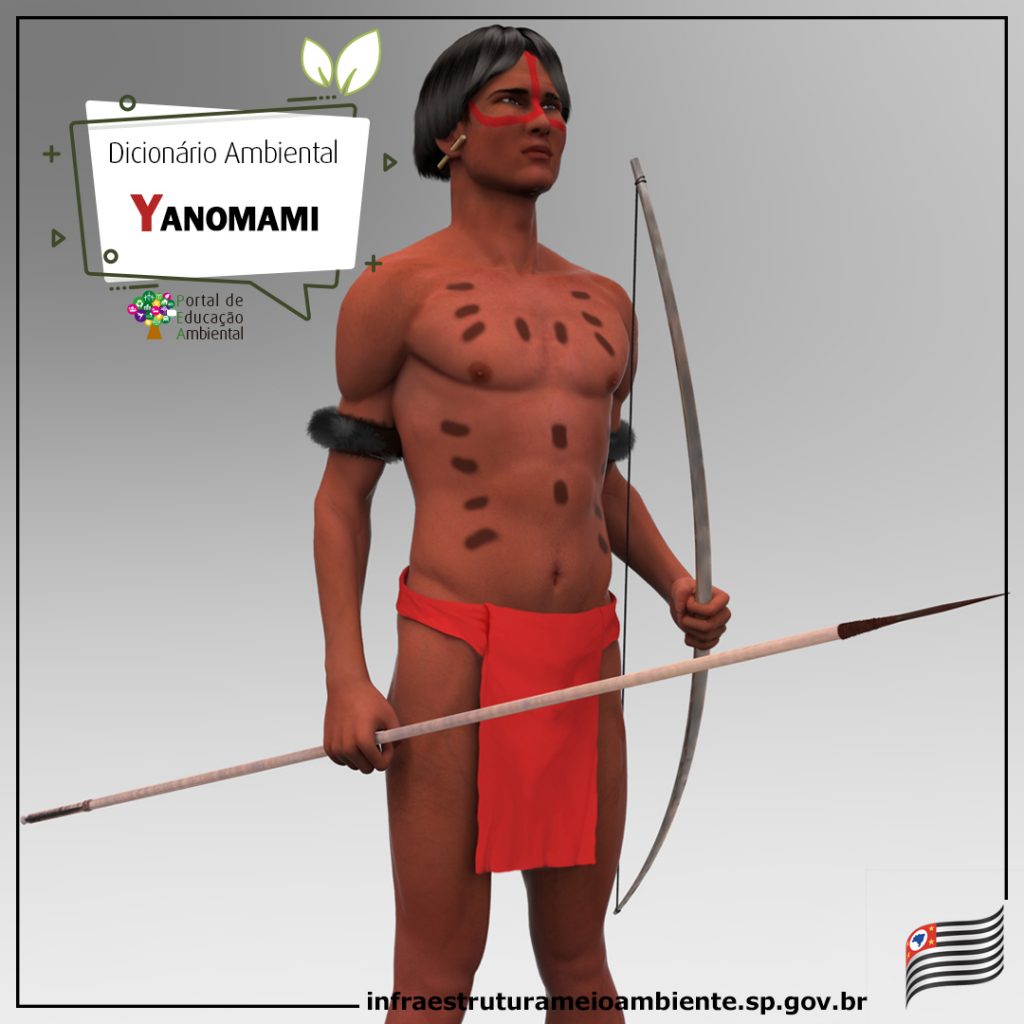
17/09/2021
Os Yanomami, Yanoama, Yanomani ou Ianomami, são uma etnia de aproximadamente 35.000 indígenas que vivem em cerca de 200 a 250 aldeias na floresta amazônica, entre Venezuela e Brasil. No Brasil, as aldeias Yanomâmi ocupam a grande região montanhosa da fronteira com a Venezuela, numa área contínua de 9,4 milhões de hectares, pouco mais de 2 vezes a área do Estado do Rio de Janeiro: a reserva Terra Indígena Yanomami, homologada pelo presidente Fernando Collor em 25 de maio de 1992. Na Venezuela, vivem na Reserva da Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare, com 8,2 milhões de hectares. Em sua maior parte, o território está coberto por densa floresta tropical úmida e é bastante acidentado, principalmente nas áreas próximas às serras Parima e Pacaraíma. Os solos são, em sua maioria, extremamente pobres e inadequados à agricultura intensiva.
História – Por volta do ano 1000d.C., os ancestrais dos atuais Yanomâmis ocuparam as cabeceiras do rio Orinoco e a serra Parima. Até o fim do século XIX, os Yanomâmis só mantinham contato com os grupos indígenas vizinhos. A partir do início do século XX, começaram a entrar em contato com não indígenas: extrativistas, missionários, soldados, funcionários do Serviço de Proteção ao Índio etc. A década de 1970 foi marcada por grandes projetos do governo brasileiro que geraram grande impacto na região: a construção da rodovia BR-210 (conhecida como Perimetral Norte), programas de colonização pública e o projeto Radambrasil, que detectou importantes jazidas minerais no território. A descoberta dessas jazidas levou a uma grande invasão garimpeira no período de 1987 a 1992, atraída pelas reservas de ouro, cassiterita e tantalita, com a ocorrência estimada de 1 500 a 1800 mortes entre a população indígena, em função de doenças e de atos de violência causados por 45 mil garimpeiros que invadiram suas terras. Em julho de 1993, garimpeiros invadiram uma aldeia Yanomami e assassinaram violentamente 16 indígenas, entre eles um bebê. O episódio ficou conhecido como o Massacre de Haximu e foi o primeiro caso julgado pela Justiça brasileira no qual os réus foram condenados por genocídio. Os mesmos fatores – construção de rodovias, garimpo ilegal, violência e doenças – ameaçam os Yanomami até hoje, com destaque para o impacto da Covid-19 a eles e outras etinias indígenas.
Sociedade – As aldeias, que podem ser constituídas por uma ou várias casas (malocas), mantêm, entre si, vários níveis de comunicação, desenvolvendo relações econômicas, matrimoniais, rituais ou de rivalidade. As suas malocas são casas comunitárias circulares chamadas yano ou shabono que podem acomodar até 4.000 pessoas. As áreas centrais das malocas são o espaço para festas e rituais. Os homens se ocupam principalmente da caça, enquanto as mulheres se dedicam à agricultura (banana, milho, mandioca, batata, frutas, tabaco, algodão) e à coleta de castanhas, larvas, mariscos e mel. Durante o dia, o alimento é preparado em fogueiras, cada família tem a própria fogueira. A pesca é exercida tanto pelos homens como pelas mulheres. Cada comunidade é independente da outra, e tem como valor crucial a igualdade entre as pessoas. Não existem chefes nas aldeias: todas as decisões são tomadas por consenso após serem debatidas longamente, todos têm direito à palavra. A etnologia descreve-os como comerciantes e peritos em navegação nos rios amazônicos, historicamente sendo registradas viagens comerciais que atingiam as cidades de Manaus, Boa Vista e Georgetown. A sua religião baseia-se na visão pelos pajés de espíritos chamados xapiripë, através da ingestão de um rapé alucinógeno chamado yakoana ou yãkõana (Virola sp.). As festas costumam ser celebradas para marcar acontecimentos como a coleta da pupunha e os funerais (festa do reahu).
É a sétima maior etnia indígena brasileira, composta de quatro subgrupos: Yanomae, Yanõmami, Sanima e Ninam. Cada subgrupo fala uma língua própria. Em 2004, os Yanomâmis brasileiros fundaram a associação Hutukara (termo que significa “a parte do céu do qual nasceu a terra”) para defender seus direitos. Em 2011, foi a vez de os Yanomâmis venezuelanos criarem sua própria associação, a Horonami.
Texto: Rozélia Medeiros (CEA/SIMA)
Revisão: Rachel Azzari (CEA/SIMA)
Arte: Cibele Aguirre (CEA/SIMA)
_____________________________________________
Saiba mais: